Pagu no metrô / Adriana Armony

Gostei muito da história: biografia, fofoca, poesia… Muito gostoso de ler.
Relato de um certo Oriente / Milton Hatoum

4193. Sem nome
Ninguém sabe lembrar qual era seu nome
Bolas de fogo na minha fala
O que significa esse nome?
Mãe D’água faz uma suave tristeza
Meu nome esqueci
Serpente de fogo em chamas
Deveria ficar sem nome
4192. Belém – Brasília

Das árvores da história sou um pequizeiro,
semeadura dura para fazer mourões
Nasço do silva-cerrado do Hospital Realístico Fantástico de Ceilondres
Estou com minha mãe na barriga dela,
3,9 kilos,
quando um brejo encho
e formo um rio-araguaia, penso que os buritis seriam guarirobas e tomo um vinho magnífico
Só que não sinto os vultos do estômago
Os boitatás e as mula sem cabeça estão chegando,
os sapos estão indo embora
e os margaridões, os tatuzinhos-de-jardim, os pardais também
As borboletas alaranjadas e pretas
estão fazendo amor livre
[“Toca, Tocantins
Tuas águas para o mar”]
ㅤ ㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤQuem eu vejo não mexe comigo:
ㅤㅤㅤㅤtão em novembro, quase dezembro, réveillon
ㅤㅤ ㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ passo…
ㅤㅤ ㅤㅤ
*Canção de Nilson Chaves – “Toca, Tocantins” ‧ 1991
4191. Macabéa
Era hora da estrela encarnada,
mulungus ficam calmantes
a cristalina flor dessa luzerna.

4190. Redemoinho
Caminho pelos desertos da terra,
sem floresta, caminho por caminhar.
Esgotado nas cordilheiras fantasmáticas
dum engenho falsificado.
Visonha constatação do murmúrio
que não tem voz.
É uma planície planejada sobre
o conflito desagradável,
bioma sórdido que uma assombração.
Pedro Páramo / Juan Rulfo
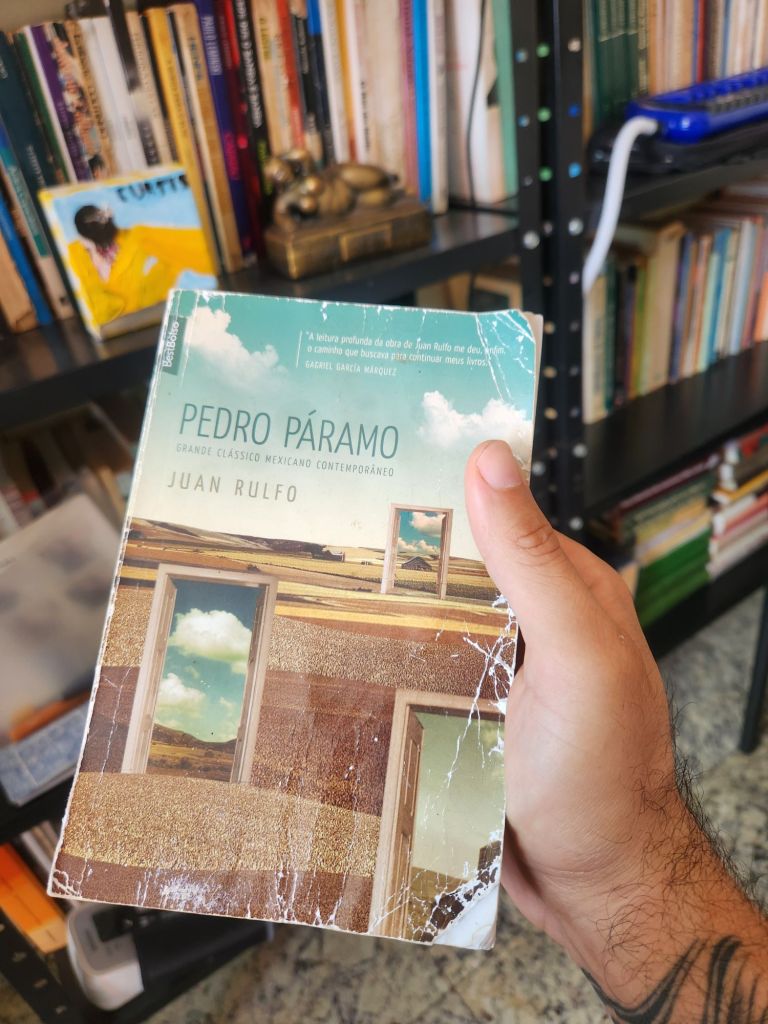
Juan Rulfo, Pedro Páramo.
4189. Tinder 1
A boca cheia de botox
Lábios selados com uma cruz
Os peitos são produzidos pelo tombamento
de união estável com plástico
As sobrancelhas estão impecáveis:
espessos, rudes, abundantes
Como o cabelo da dama ruiva
– um alvoroço profundamente completo
Bioplastia nas maçãs do rosto
O nariz é de tom avermelhado e
tem umas bochechas de largura de caminhão
Gosto dela
Formas do nada / Paulo Henriques Britto

Limiar
Uma geografia de dúvidas
Ihe percorria todo o firmamento:
serão serafins? será música
isso que martela incessantemente
e não consegue arrebentar?
As perguntas se dissipam no ar.
E um cardume de corolários
atravessava-lhe o desfiladeiro:
então isto é aquilo, e o contrário
só é verdade do princípio ao meio
etc. Isso proporcionava-lhe
prazer não pouco, e uma penca de álibis.
Definitivamente, sou,
ele pensou, com a magnificência
de um pterossauro em pleno voo.
O saber é sua própria recompensa,
como a virtude, concluiu.
E viu que isso era bom. Depois dormiu.
músicas: Renato Braz – Canário do Reino
4188. Arraia

A estrela caiu na minha mão
onde estava procurando um eneagrama dos sonhos.
Uma arraia nadadora saiu de mim
com uma sereia crescente dias depois.
Uma maré estava sondando as algas
derradeiro o lugar onde está o azeviche
o negrume da fossa abissal.
Estava mais calmo
as montanhas mais altas,
macio.
Bem ali no mar, me chegará
no meu apogeu –
como do alumiar –
segurar,
sutil, tênue, delgado,
na depressão do mar a liberdade
dos desejos e medos imensos.
Tecnofeudalismo – O que matou o capitalismo / Yanis Varoufakis

Como uma falta da linguagem técnica, vou tentar escrever algo sobre minha crítica: o capitalismo estaria prestes a morrer, o que você acha? Penso que é uma etapa da história do capitalismo, a comparação entre cada feudo que as bigtechs (Apple, Meta, Microsoft, Alphabet, etc.) seriam um atributo análogo de produtores de rotinas (de controle, consumo e conteúdo), exercem um poder semelhante com o seriam senhores feudais. Acho que algo muito mais importante, pois tenho certeza de que vai ser um comunismo de quebrada e ecologicamente torta.
pausa: forró cangaço sessions
Livro dos sonhos / Jorge Luis Borges

“A Julio Floro
Está livre teu peito do amor à glória vã? Estará também da ira e do medo da morte? Os sonhos, os terrores mágicos, as feiticeiras, os duendes noturnos, os sortilégios de Tessália: eles te fazem rir?
Horácio, Epístolas, Il, 2″
4187.
O breaking buda
A breaking bitcoin
O pai reborn
A mãe Chat GPT
O lobby das bigtechs
A minha medição da IA
O governo de google
A cocriação das artes e artifícios artificiais
O think tank
A coisa
Amém
4186.
Procurei a precariedade
dos seus defeitos
em todas suas funções
em casos práticos
em termos gerais
de coisas pra voltar atrás
essas são todas respostas verdes,
néctar maduro homogêneo,
contorcem as correntes mais arcaicas
as folhas que foram tiradas por seus calendários.
pausa: Nyron Higor
Torto arado / Itamar Vieira Junior

pausa: Síntese – Flor Maio
4185.

Cada vez melhor desistir disso tudo.
Ira.
Quando chegar no mar, me avisa.
Despedaço.
Favor enviar as pontas dos dentes superiores ao meu coração.
Rasgo.
O ganho é um rio muito pequeno mesmo.
Cruel.
4184.

Às vezes eu vou um ter tempo pra sobrevoar,
restos da noite fosca.
Um blues
presságio.
4183.

Vou te contar um enigma:
pela janela à noite – lá fora alta –
um aluvião
cascalho, areia, lamaçal.
Uma quentura lateja,
leito dum rio que passa.
Rochedo, planícies,
vigor incessante.
Cresço, eclipso e mínguo.
Vou te clarear pelas manhãs.
4182.
Às vezes
as vozes
passam por ter sido
tão simples, bobas,
onde não posso ir.
O báu

Apresentação ||Entre|| Arte e Acesso 2024/25
Paulo e a música by Guilherme Carvalho

Paulo andava querendo falar com Eliane há algum tempo. Queria falar sobre o CD novo que havia comprado. Assim que o comprou, quis que ela conhecesse seu conteúdo, foi algo instantâneo: música boa: Eliane. Neste CD, havia uma música em especial que trazia Eliane até Paulo de uma forma sutil e leve, a letra falava […]
Paulo e a música by Guilherme Carvalho
O despertar de tudo – Uma nova história da humanidade / David Graeber & David Wengrow
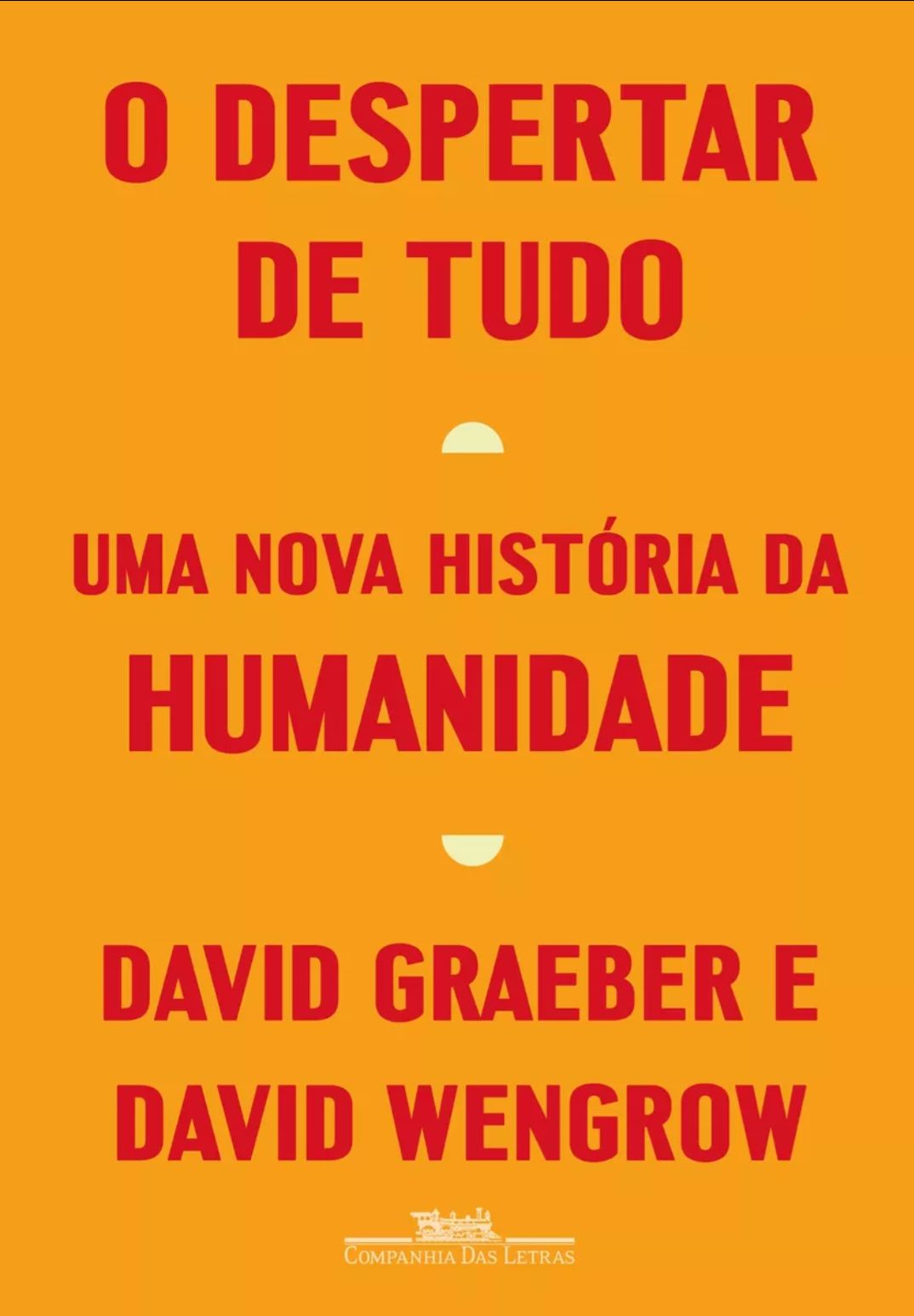
4181. cantos afasicos 1
o acidente aconteceu
o agramatismo também
logopenia, alexitimia, afantasia etc…
quando entrarmos nas veias reais
eu vou sonhar muito bem
quando entrarmos nas nervuras do anestésico
eu vou sonhar muito bem
talvez tudo na cabeça,
dentro da vida,
manejar as cordas que compõem a realidade
Descolonizando afetos: experimentações sobre outras formas de amar / Geni Núñez

A tradição / Jericho Brown

Indústria do entretenimento
O terror de ver um filme
O tempo todo
Tenho que gritar a cada cena
Desviar e ficar abaixado
Blues do atentado a tiros
Quando me vir vindo
Se me vir correndo
Quando me vir correr
Corra também
Não tenho filhos
Porque teria que mandá-los para a
escola
O que não é seguro
qualquer
Plano de ter filhos
Blues do atentado a tiros
Quando me vir vindo
Se me vir correndo
Se for mais veloz que uma bala
Você também deve correr
Jericho Brown
Uma história do Samba (as origens) / Lira Neto

O capital está morto / McKenzie Wark
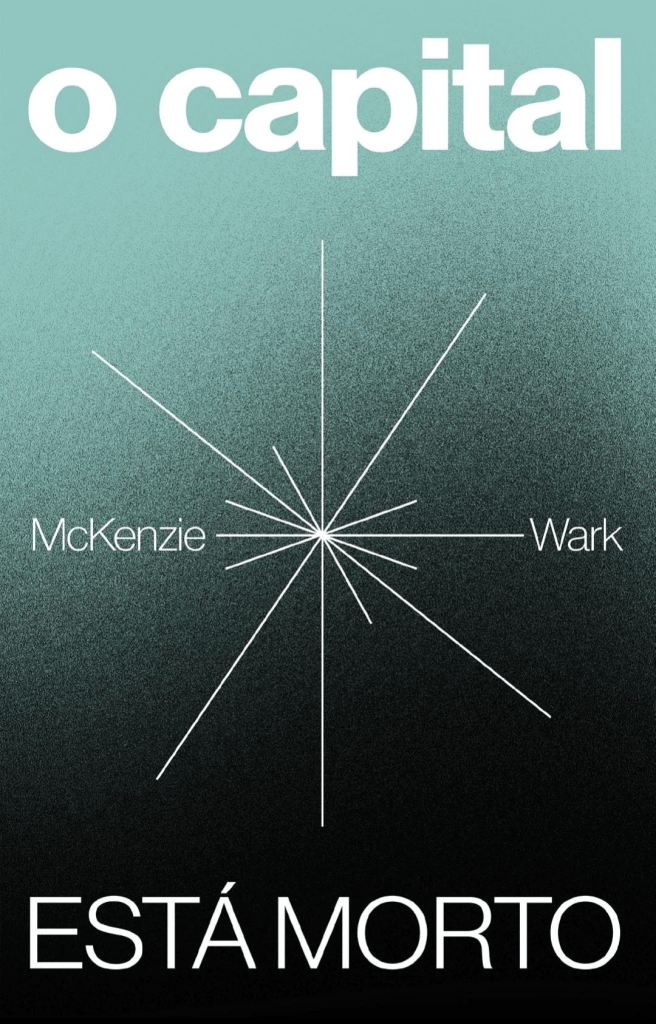
Emocional – A nova neurociência dos afetos / Leonard Mlodinow
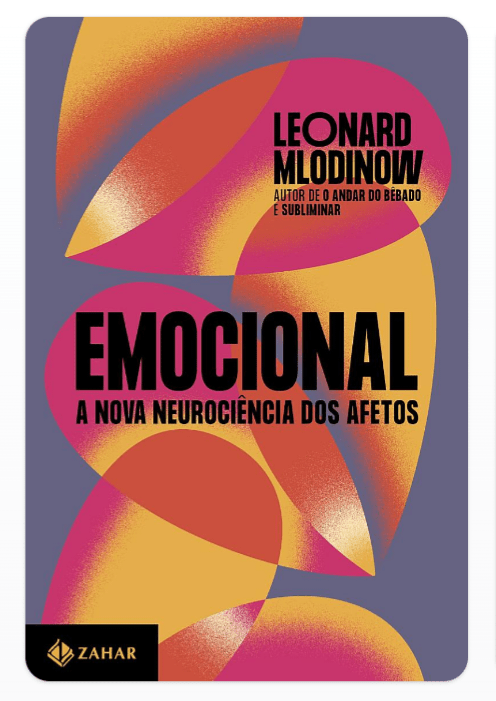
Do aclamado autor de O andar do bêbado e Subliminar, uma jornada pela nova ciência das emoções
Durante muito tempo acreditamos que o pensamento racional era a influência dominante em nossos comportamentos. As emoções, por sua vez, seriam prejudiciais nas tomadas de decisão. Agora, graças ao enorme progresso das pesquisas em neurociência e psicologia, sabemos que a emoção é tão importante quanto a razão para orientar nossas escolhas e atitudes.
Mas o que é a emoção? Como nossas ideias sobre os sentimentos evoluíram? Como regular as emoções para utilizá-las a nosso favor? Estas são as grandes questões abordadas em Emocional, do brilhante físico Leonard Mlodinow, que nos orienta aqui por uma novíssima área de pesquisa: a neurociência afetiva.
De laboratórios de cientistas pioneiros a cenários do mundo real em que o domínio sobre as emoções foi decisivo para evitar uma tragédia, Mlodinow mostra o quanto essa revolução científica tem implicações significativas também na vida cotidiana, no tratamento de doenças, na compreensão das relações pessoais e em nossa percepção a respeito de nós mesmos.
LEONARD MLODINOW é doutor em física pela Universidade da Califórnia, Berkeley. Foi professor no Caltech, O Instituto de Tecnologia da Califórnia, e pesquisador no Instituto Max Planck, em Munique. Entre seus livros, traduzidos em mais de trinta países, estão os best-sellers O andar do bêbado, Subliminar e Elástico, lançados pela Zahar.
Teatro – Afasia
Nós tivemos um AVC e ficamos com uma sequela chamada afasia.
Queremos um espaço para nos expressar e pensamos em fazer uma peça de teatro.
A ideia é trabalhar junto a pessoas que sofreram AVC e estão em recuperação, que atuariam na peça.
Se você sofreu um AVC e tem interesse em contar como está vivendo essa experiência, junte-se a nós.
Precisamos de apoio. Venha colaborar conosco!!!
🤓❤️
Para o meu coração num domingo / Wislawa Szymborka

Bebendo um vinho
Olhou, me deu mais beleza
e eu a tomei como minha.
Feliz, ingeri uma estrela.
Permiti que me inventasse
à semelhança do reflexo
nos seus olhos. Danço, danço
em montes de asas súbitas.
A mesa é mesa, o vinho é vinho,
numa taça que é taça,
e cinzas são cinzas no cinzeiro cinza.
Já eu sou imaginária,
incrivelmente imaginária,
imaginária até a medula.
Falo do que ele quer: das formigas
que morrem de amor sob uma
constelação de dentes-de-leão.
Juro que uma rosa branca,
regada com vinho, canta.
Rio, inclino a cabeça
com cuidado como a conferir
uma invenção. Danço, danço
na minha pele espantada,
no abraço que me concebe.
Wislawa Szymborka
pausa – Matheus de Bezerra
LOMBRA FEIA
Você “tropicalizava” minha
vista
Com seus tons de areia
E apesar de não ser sereia
Quando entra no mar me
obriga a entrar também
Nosso beijo é um eclipse
Pros meus olhos de lua
cheia
Que aumentam a maré da
tua vênus
Nós dois temos vontades e
o mundo também
Não podemos por medo
deixar nosso amor pra
Semana que vem
Você estendeu sua canga
neon no meu peito
Prestes a apagar
E falando com minha
solidão disse que pretendia
ficar
Vem cá me tira dessa
lombra feia
Menina bonita
Que mora
Numa rua longe da minha
rua
Me tira dessa lombra feia
Menina bonita
Dança na minha vida
Vestida de nua
Vem cá me tira dessa
lombra feia
Vem cá me tira dessa
lombra feia
Vem cá me tira dessa
lombra feia
Vem cá me tira dessa
lombra feia
Você, encurtava o caminho
da tristeza
Com os seus atalhos
Dormia no meu imaginário
Pra acordar sonhos
bêbados de realidade e
Compensava minha falta
de paz
Com seu excesso de guerra
Derrubava impérios e
“Césas”
Você leva no rosto a minha
história do amor
E no espaço entre a gente o
medo das bombas que ele
deixou
Confundimos pássaros e
pipas com os nossos olhos
em brasa
E aplicamos o mesmo
conceito de livre pra linhas
e asas
Eu carrego as sementes
que você me deu pelos
fundos do bolso
Pra florir minhas tristezas
durante as passagens no
fundo do poço
Mesmo insosso dou minhas
mordidas em planos que fiz
pra mudar
Com você pra um planeta
onde a finalidade do tempo
é parar
Vem cá me tira dessa
lombra feia
Menina bonita
Que mora
Numa rua longe da minha
rua
Me tira dessa lombra feia
Menina bonita
Dança na minha vida
Vestida de nua
Vem cá me tira dessa
lombra feia
Vem cá me tira dessa
lombra feia
Vem cá me tira dessa
lombra feia
Vem cá me tira dessa
lombra feia
Nuvens de Algodão / Abbas Kiarostami

A abelha
permanece indecisa
entre milhares de flores de cereja.
Abbas Kiarotami
O inventário das coisas ausentes / Carola Saavedra

“Você quase não me toca, ela diz, mas é claro que eu te toco, e automaticamente coloco minha mão sobre seu rosto, deslizo a ponta dos dedos na pele fina do rosto, o alto da testa, a têmpora, a lateral que termina no queixo, boca. Ela se afasta. Eu quase não a toco, o corpo de Nina. O constante envelhecer do corpo de Nina. Como um espelho. Eu que fujo dos espelhos todos os dias, apenas para fazer a barba, passar os dedos entre os cabelos, escovar os dentes, eu quase não me olho, mas vejo o corpo de Nina, eu olho e vejo o corpo e o tempo no corpo de Nina. Os seios, as coxas, as costas, e até mesmo a curva da cintura, até mesmo ali o tempo que passa escancarado, ela diz, você quase não me toca, e eu quero dizer, Nina, eu não posso tocar o tempo que passa assim tão escancarado no teu corpo, você entende?, eu quero dizer, eu não posso tocar esse tempo em teu corpo no meu, você entende?, Nina tem vontade de gritar e ir embora e nunca mais me ver, nunca mais voltar, nunca mais dormir ao meu lado, eu muito longe no outro extremo da cama, jamais um carinho, uma braço, nem mesmo a mão que se estende em busca do outro, da presença do outro. Nina tem vontade de me dizer coisas horríveis, vontade de me bater, de me afastar, mas Nina não diz nada, eu adormeço.”
Texto que me toca como um soco… O inventário das coisas ausentes, ótimo livro!
Salvar o fogo / Itamar Vieira Junior

um grande pássaro vindo do mundo dos mortos, e seus olhos refletirão o fogo que é vida e a habita desde,
sempre.”
4180. entregar

A estranha ordem das coisas / Antonio Damasio

“Tais considerações nos levam a outra parte importantedo surgimento em ordem tão estranha da mente,sentimentos e consciência, uma parte que é sutil e fácilde passar despercebida. Ela se relaciona à noção de quenem partes dos sistemas nervosos nem cérebros inteirossão os únicos fabricantes e provedores de fenômenosmentais. É improvável que fenômenos neurais pudessem, sozinhos, produzir os alicerces funcionaisnecessários a tantos aspectos da mente, e certamente éverdade que eles não poderiam ter esse papel quandofalamos em sentimentos. É preciso que haja umainteração muito próxima entre os sistemas nervosos e asestruturas não nervosas dos organismos. As estruturasneurais e não neurais não são apenas contíguas, masparceiras contínuas, interativas. Não são entidadesdistantes que sinalizam umas para as outras como chipsem um telefone celular. Em palavras simples: corpos ecérebros estão na mesma sopa capacitadora.
Inúmeros problemas da filosofia e da psicologia podemcomeçar a ser investigados produtivamente assim que asrelações entre “corpo e cérebro”passarem a ser vistas sob essa nova ótica. O entranhadodualismo que começou em Atenas, teve Descartes comoavô, resistiu às investidas de Espinosa e foi avidamenteexplorado pelas ciências da computação é uma posiçãocujo tempo já passou. Precisamos agora de uma novaposição que seja biologicamente integrada.”
O ano do pensamento mágico / Joan Didion

O conto da Aia / Margaret Awood

Incrível!!
Lupa da alma / Maria Homem

“… nunca ficou tão claro que o outro é parte fundamental do Eu, vivendo esse Eu sozinho ou com alguém. Parece complicado mas não é: não escapamos do outro de jeito nenhum. Ele pode ser real ou imaginário, uma pessoa ou um ideal. Normalmente é tudo isso misturado. Como diria Lacan, nó borromeano, que entrelaça o real, o simbólico e o imaginário. De qualquer forma, que façamos os nós que possamos sustentar e desamarrar.”
Maria Homem
Amor Líquido: Sobre a Fragilidade dos Laços Humanos / Zygmunt Bauman

“Se os outros me respeitam, então obviamente deve haver “em mim” — ou não deve? — algo que só eu lhes posso oferecer. E obviamente existem esses outros — não existem? — que ficariam satisfeitos e gratos por isso lhes ser oferecido. Eu sou importante e o que penso e digo também é. Não sou uma cifra, facilmente substituída e descartada. Eu “faço diferença” para outros além de mim. O que digo e sou e faço tem importância — e isso não é apenas um vôo da minha fantasia. O mundo à minha volta seria mais pobre, menos interessante e promissor se eu subitamente deixasse de existir ou fosse para outro lugar.
Se é isso que nos torna objetos legítimos e adequados do amor-próprio, então a exortação a “amar o próximo como a si mesmo” (ou seja, ter a expectativa de que o próximo desejará ser amado pelas mesmas razões que estimulam nosso amor-próprio) evoca o desejo do próximo de ter reconhecida, admitida e confirmada a sua dignidade de portar um valor singular, insubstituível e não-descartável. A exortação nos leva a pressupor que o próximo de fato representa esses valores — ao menos até prova em contrário. Amar o próximo como amamos a nós mesmos significaria então respeitar a singularidade de cada um — o valor de nossas diferenças, que enriquecem o mundo que habitamos em conjunto e assim o tornam um lugar mais fascinante e agradável, aumentando a cornucópia de suas promessas.”
Zygmunt Bauman
Asterios Polyp / David Mazzucchelli

Poesia completa / Maya Angelou

Presciência
Se eu soubesse que o coração
quebra lentamente, se desmantela
em pedaços irreconhecíveis de
miséria,
Se eu soubesse que o coração vazaria,
babando sua seiva, com uma visibilidade
vulgar, sobre as salas de jantar enfeitadas de estranhos,
Se eu soubesse que a solidão poderia
sufocar a respiração, afrouxando
e forçando a língua contra o
o céu da boca,
Se eu soubesse que a solidão formaria
queloides, enrolando-se pelo
corpo como uma cicatriz sinistra
e bela,
Se eu soubesse, ainda teria amado
você, sua beleza impetuosa e insolente,
seu rosto exageradamente cômico
e o seu conhecimento de doces
prazeres,
Mas a distância.
Teria deixado você inteiro e completo
para o divertimento daquelas que
desejassem mais e se importassem menos.
Maya Angelou
A ansiedade – E formas de lidar com ela nos contos de fadas / Verona Kast

O corpo encantado das ruas / Luiz Antônio Simas

AZEITE DE DENDÊ NO CARNAVAL
Luiz Antônio Simas
“Exu que tem duas cabeças, ele faz sua gira
com fé
Exu que tem duas cabeças, ele faz sua gira
com fé
Uma é Satanás do inferno outra é de Jesus Nazaré
Uma é Satanás do inferno a outra é de Jesus
Nazaré.”
– Ponto de Exu
AS RUAS no carnaval são exemplarmente exusíacas. Exu é aquele que vive no riscado, na brecha, na casca da lima, malandreando no sincopado, desconversando, quebrando o padrão, subvertendo no arrepiado do tempo, gingando capoeiras no fio da navalha. Exu é o menino que colheu o mel dos gafanhotos, mamou o leite das donzelas e acertou o pássaro ontem com a pedra que atirou hoje; é o subversivo que, quando está sentado, bate com a cabeça no teto e em pé não atinge sequer a altura do fogareiro. Ele é chegado aos fuzuês da rua. Adora azeite de dendê. Mas não é só isso e pode ser o oposto a isso.
Um longo poema da criação diz que, certa feita, Exu foi desafiado a escolher, entre duas cabaças, qual delas levaria em uma viagem ao mercado. Uma continha of bem, a outra continha o mal. Uma era remédio, a outra era veneno. Uma era corpo, a outra era espírito. Uma era o que se vê, a outra era o que não se enxerga. Uma era palavra, a outra era o que nunca será dito.
Exu pediu uma terceira cabaça. Abriu as três e misturou o pó das duas primeiras na terceira. Balançou bem. Desde este dia, remédio pode ser veneno e veneno pode curar, o bem pode ser o mal, a alma pode ser o corpo, o visível pode ser o invisível e o que não se vê pode ser presença. O dito pode não dizer e o silêncio pode fazer discursos vigorosos. A terceira cabaça é a do inesperado: nela mora a cultura.
Gosto do carnaval de rua e das libações comandadas por Exu. Sou adepto da subversão pela festa. Carnaval de rua é possibilidade: pode ser festa de inversão, confronto, lembrança e esquecimento. É período de diluição da identidade civil, remanso da pequena morte, reino da máscara, fuzuê do velamento necessário. Eventualmente, sai porrada.
O carnaval exusíaco é o do não
endereço, do rumo perdido, da rua esquecida, da esquina incerta. Em tempos de escancaramento das redes sociais, tem gente que quer ser encontrada no carnaval. É um tal de dizer “onde estou”, “qual é a minha fantasia”, “olhem como estou me divertindo”, “que foto bacana”. Brincar é o de menos; fundamental é que as pessoas saibam, em tempo real, que o folião está brincando. Na rua, espaço de subversão do cotidiano, a folia deveria ser o mar aberto do ébrio pirata de nau sem rumo. O carnaval, festa do “me esqueçam”, vira a festa do “me encontrem, me vejam, me curtam”. Para alguns, é a festa do “me patrocinem”. Sinal dos tempos e despotência da força exusíaca do babado. Sem dendê, a rua morre. Olho vivo, rapaziada.
Desfile de escola de samba, cada vez é mais cheio de regras, é carnaval oxalufânico. Oxalufã é o orixá que tem como positividade a paciência, o método, a ordem, a retidão e o cumprimento dos afazeres predeterminados. Tudo que contrário a isso representa a negatividade que pode prejudicar seus filhos. Diz um mito de Ifá que, quando se desviou da missão a ser executada e tomou um porre de vinho de palma, Oxalufã quase comprometeu a própria tarefa da criação do mundo. Em outra ocasião, quando também tentou agir por instinto teimosia, deixando de seguir a recomendação do oráculo e de dar oferendas para Exu, Oxalufã foi preso durante uma viagem, acusado injustamente pelo furto de um cavalo. Curtiu uma cana de sete anos. Deve evitar o azeite de dendê, que o tira do prumo.
O problema é que esse perfil oxalufânico anda excessivo entre as escolas de samba. A disciplina, a regra, O engessamento dos desfiles, o controle rígido das performances podem representar a perda da capacidade de renovação e o descolamento entre as agremiações e a cidade. Oxalufã precisou de Exu para cumprir a sua missão na criação do mundo.
Alguma dose de oxalufânico pode fazer bem ao que é exusíaco; contanto que não o domine e impeça seu movimento. Alguma dose de exusíaco pode fazer um bem enorme ao que é predominantemente oxalufânico, para que ele se movimente. Quando um princípio, todavia, prevalece no terreno do outro e desequilibra a vitalidade de determinada potência, a chance de a vaca ir para o brejo é grande. Saber a medida certa do dendê é o nosso desafio na receita momesca. Carnaval, como diria o Zé Pereira, é vida na rua.